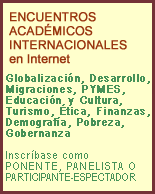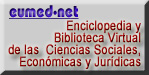O Institucionalismo Americano – raízes e presente
Autor: Paulo Reis Mourão
(Assistente do Departamento de Economia da Universidade do Minho; Investigador
Assistente do Núcleo de Investigação em Política Económica)
Morada: Departamento de Economia; Escola de Economia e Gestão; Universidade do
Minho; 4700 Braga; Núcleo de Investigação em Política Económica (Universidade do
Minho)
Correio electrónico: paulom@eeg.uminho.pt
Resumo: Este trabalho debruça-se sobre o institucionalismo americano, corrente
do pensamento económico que tem observado uma atenção recente pelo mainstream
académico. Para o efeito, principia por descrever os antecendentes históricos do
institucionalismo (historicismo), sugerindo, em seguida, os traços
preponderantes do institucionalismo fundador (de Veblen, Commons e Mitchell) e
realçando, por último, os aspectos dos ramos actuais desta corrente, sobretudo
mais próximos de Galbraith e Heilbroner.
Palavras-Chave: Institucionalismo; Historicismo; Novo Institucionalismo
|
Este texto fue presentado como ponencia al
Pulsando aquí
puede solicitar que le enviemos el Informe Completo y Actas Oficiales en CD-ROM Si usted participó en este Encuentro, le enviaremos a la vez su certificado en papel oficial. Vea aquí los resúmenes de otros Encuentros Internacionales como éste VEA AQUÍ LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS CONVOCADOS
|
1. Introdução
O presente trabalho partiu de uma discussão ocorrida numa aula de História
Económica. Então, um aluno abordou-me na medida em que encontrara num documento
de trabalho termos como Institucionalistas, Novos Institucionalistas e
Institucionalistas Americanos. A dúvida localizava-se na precisão dos termos –
referir-se-iam todos ao mesmo significado? Como resposta imediata, disse-lhe que
“não”. E prometi-lhe, com detalhe, uma maior clareza num documento a desenvolver
para o efeito. O resultado desse compromisso é este trabalho.
Como resposta académica, é um pouco extensa. No entanto, procurei com este
documento que alunos, sobretudo em aulas de História do Pensamento Económico,
pudessem reflectir sobre uma corrente económica – o Institucionalismo – que tem
possibilitado um extenso campo de reflexão da Ciência Económica no que tem de
mais fundamental, elaborando um texto preciso, a partir do qual encontrassem
referências para uma discussão mais ampla. Ainda que seja demasiado simplista
esboçar uma definição de Institucionalismo, por razões de operacionalidade
identificar-se-á no presente documento Institucionalismo com uma escola do
pensamento económico, o Institucionalismo Americano, que na esteira dos
fundadores Veblen, Commons ou Mitchell, rejeita a racionalidade ilimitada dos
agentes assim como princípios motores do comportamento dos mesmos agentes
económicos assentes na maximização da utilidade individual.
Tentar-se-á, ainda, confrontar opiniões contrárias com as dos próprios autores
institucionalistas que, segundo uns, se afirmaram como dos grandes renovadores
do pensamento e da metodologia económica, e, segundo outros, não passaram de
sectários heterodoxos do mesmo pensamento económico.
A importância deste tema prende-se ainda com uma tentativa de melhor compreender
a tendência actual do pensamento económico, o porquê da persistência das ideias
desta corrente, a razão da sua utilização por autores, inclusivé, antagónicos,
como os neoclássicos.
Iniciar-se-á por uma breve situação histórica do pensamento (Secção 2),
progredindo para as ideias mestras do Institucionalismo Americano na concepção
original, onde avultaram Veblen, Mitchell e Commons (Secção 3), terminando o
‘opus’ temático por uma aproximação temporal com a visão dos actuais
‘discípulos’, como Galbraith e Heilbroner (Secção 4). A Secção 5 conclui.
2. As raízes do Institucionalismo Americano: o historicismo
Esta secção procura identificar a contextualização metodológica do
institucionalismo americano.
Como Taylor (1990: 120) ou Mises (1957) nos referem, a comparação histórica
enquanto método preferencial de análise científica da sociedade tinha diversos
adeptos no século XIX nas personalidades de economistas como Sismondi, Saint-Simon
ou List. Inclusivé Marx, como referido por Ollman (1993), em diversos momentos
da sua reflexão, combinara a Abstracção e a Dedução com a História. É, pois, num
ambiente onde Hegel, Compte e Savigny imperavam metodologicamente que, na
Alemanha, começa a desabrochar uma concepção diferente da Economia, no século
XIX: a escola histórica . Desde logo, os “históricos” criticam o peso das
abstracções e generalizações dos clássicos. Para eles, os povos, em permanente
transformação, levam neste ritmo as suas instituições e, com elas, o próprio
conhecimento científico que não poderá ficar terminado em modelos estáticos;
logo, seria escandaloso para estes académicos a subserviência às ideias
universalistas dos clássicos – pelo contrário, advogam uma espécie de permanente
adaptabilidade às circunstâncias do meio e das suas envolvências. Os factos
sociais só poderão ser devidamente compreendidos se apelarmos à participação
nesse processo da ciência histórica.
Sugerem, por isso, a uma atitude relativista do conhecimento, reconhecendo a
perene transição das pessoas, das instituições e das ideias.
Os liberais da segunda metade do século XIX, talvez com excepção singular de
Stuart Mill, não se mostravam permeáveis à inserção de grandes mudanças
epistemológicas e metodológicas. Os históricos encontraram, pois, a oportunidade
de surgir nos estrados universitários como advogados de uma ordem que,
efectivamente, surpreendia, não só pelos avanços permanentes da técnica, mas
também das diversas revoluções científicas.
O “historicismo” foi, então, uma corrente do pensamento económico, que procurou
conciliar a História com a Economia e a Sociologia, num ‘cocktail’ rico de
espírito insubmisso, mas também repleto de contradições internas, que o
ramificaram em várias sub-correntes.
Uma dessas sub-correntes, a mais vigorosa segundo autores como Brue (2000), foi
o Institucionalismo Americano que, actualmente, retém importantes adeptos com
prestígio económico. Dele trataremos seguidamente.
3. As principais dúvidas do Institucionalismo Americano
Continuando na esteira de Taylor (1990: 127), a influência da “nova escola
histórica”, predominantemente, do pensamento de Schäffle na América do Norte,
resultou neste contexto académico por originar o aparecimento daquela corrente
do pensamento económico que ficaria identificada como o Institucionalismo
Americano, onde avultaram, então, nomes maiores como os de Veblen, Mitchell e
Commons.
Em comum, estes autores, ao invés do determinismo do mercado, confiavam nos
factores psicológicos como determinantes preponderantes dos fenómenos
económicos, recorrendo, portanto, Veblen, Mitchell e Commons preferencialmente à
indução, em detrimento da lógica ortodoxa, procurando uma visão dos agrupamentos
e das instituições no lugar do individualista homo ecconomicus do Marginalismo.
Contrastam ainda com os clássicos e os socialistas porque, em vez de se
preocuparem com o valor do trabalho, colocam a tónica nas previsíveis
consequências da produção no mercado. Logo, são as instituições que orientam o
mercado, e não o somatório de produtos mensuráveis. Esta envolvência provoca, em
acréscimo, um estímulo aos estudos realistas, monográficos, e uma nova atenção
sobre as condições reais da vida económica.
Parafraseando Commons, citado em Taylor (1990: 128), uma descrição aproximativa
da proposta institucionalista, estipula que: “O tema central da economia deve
ser a conduta (behaviour); a conduta em face do preço é importante, mas somente
quando considerada como parte da conduta económica geral. (...) deve-se
considerar o papel do costume, do hábito e da lei na organização da actividade
económica como elemento fundamental na análise [donde verificamos também o
importante papel da evolução do direito nesta problemática] (...) o conceito de
equilíbrio económico normal como base do processo económico deve ser posto de
parte e os desequilíbrios económicos não devem ser considerados como desvios de
uma anterior estabilidade; a análise da vida económica tem de ter em conta as
afinidades entre as várias ciências sociais”.
Na anotação de G. Pirou , constatamos o importante contributo dos
institucionalistas para o estudo descritivo dos “quadros” da vida económica,
embora deixe algo a desejar na compreensão dos “mecanismos” da vida económica,
aproximando-se do abismo do pontualismo, do circunstancialismo, da inexistência
de conceitos definidores num sentido lato, logo, ameaçadores do próprio sentido
do conhecimento económico, como em Knight (1924).
Como Blaug (1992: 354) também refere, os institucionalistas americanos encaravam
com cinismo toda a panóplia de curvas de produtividade, indiferença ou de custos,
que a revolução marginalista tinha colocado ao dispor da comunidade científica,
e justificavam com a permanente dúvida de que oscilações nos preços levavam a
mudanças nos próprios produtos, na medida em que a reacção do consumidor
alterava também. Por isso , a economia deveria ser mais encarada como algo de
“economia biológica”, na parte de crescimento dos sistemas, permanente
interacção entre estes e o meio, e no largo sistema de ritmos diversificados,
padrões individuais e de comportamentos heterogéneos.
Mas, ao referirmo-nos a Veblen, Commons e Mitchell, estamos a referenciar três
autores coordenados, que estratificaram, desde logo, uma revolução mental? Para
lá do alargamento possível da discussão a outras ciências, como o fizeram Hall e
Taylor (2003), também Blaug (1992: 708) nos refere, que Veblen aplicava uma
grande dose de visão sociológica na percepção dos empresários (chegando a
adoptar parecenças evolucionistas próximas de Darwin), Mitchell era seduzido
pelo universo estatístico e Commons procurava sustentar os seus trabalhos pela
compreensão dos princípios de jurisprudência submersos. Se Commons fez da
realidade onde teve a ocasião de trabalhar estadualmente um laboratório de
ensaios, já Mitchell viu o seu trabalho reconhecido enquanto estatístico
federal, e Veblen resignou-se às cátedras universitárias. Mas, em comum, como
Blaug (1992: 709) acusa, estas três personalidades tão distintas, sentiam-se
insatisfeitas com o exagerado nível de abstracção da economia neoclássica (corrente
aliás que terá impulsionado o Institucionalismo Americano como contra-reacção a
esta), uma procura de integrar a economia noutras áreas do conhecimento, e
renegação do empiricismo casual dos clássicos e neoclássicos. Reclamavam-se
contra a implicação de que a concorrência perfeita tendia, mesmo debaixo de
certos condicionalismos, para resultados óptimos. Veblen, por exemplo, entendia
as instituições como um complexo de hábitos de pensamento e de comportamentos
padronizados. Commons, por outro lado, analisou as regras de trabalho que
governavam as transacções individuais.
Talvez, por isso, somos levados a reconhecer com Blaug que os institucionalistas
nunca conseguiram fugir da fama de anti-ortodoxos pelo gosto de contrariar pura
e simplesmente, e de que o termo ‘institucionalista’ no jargão económico apele a
um significado preferencialmente de ‘descritivo’, quando não o encontramos, na
sua significância mais abrangente, como um adjectivo que se aplicaria a muitos
economistas que nem o conceberam, como Marx, Pareto e Webbs.
Podemos assim planificar, em síntese, quais os princípios estruturantes dos
institucionalistas americanos sobre o funcionamento dos mercados, seguindo três
dos mais eminentes investigadores do tema, Eggertsson (1990), North (1990) e
Williamson (1998):
- negação das verdades “absolutas” e incontornáveis dos pressupostos clássicos e
neoclássicos sobre o mercado (como a natureza da dotação factorial, a condição
‘ceteris paribus’, e a consideração da variável ‘preço’ como fundamental);
- valorização dos factores históricos, sociais e institucionais (e não meramente
quantitativos ou dados);
- reconhecimento da mudança permanente que afecta a estaticidade clássica dos
mercados / preferência por modelos dinâmicos;
- complexo sistema de influências entre indivíduos/instituições/sociedade (a
análise bidimensional revelava-se demasiado escassa para as pretensões
institucionalistas);
- medida empírica dos ciclos de comércio (na procura de compreensão dos ciclos
comportamentais das empresas);
- explicação metodológica da economia através da história e das relações
institucionais (e não meramente por pressupostos generalistas e exclusivistas);
- recurso à indução na metodologia de análise;
- procura de uma visão dos agrupamentos e das instituições no lugar do
individualista homo ecconomicus do Marginalismo;
- tónica nas previsíveis consequências da produção no mercado ( e não no
‘mercado’ em si);
- focalização na conduta dos agentes participativos (e não valores abstractos
como o preço, por exemplo);
- e procura de integrar a economia noutras áreas do conhecimento (como a
sociologia, o direito ou a história).
Mas será que, efectivamente, o Institucionalismo Americano não terá passado de
uma corrente do pensamento económico, que contrariava a posição dominante do ‘neoclassicismo’,
contida entre os apologistas do início do século e a revolução de Pareto?
A esta pergunta, tentaremos responder em seguida:
4. Os novos “Institucionalistas” e as suas dúvidas quanto ao funcionamento dos
mercados
O título acima, para um observador mais desatento, poderia começar por “Os
‘novos institucionalistas’...” e conduzir a uma relação errada de entendimentos.
Porque convém, desde já, colocar esta destrinça: por “novos institucionalistas”
compreende-se aquela corrente de pensadores económicos, que procuram explicar as
instituições políticas, económicas, históricas e sociais, como o governo, a
justiça, os mercados, as empresas, as convenções sociais ou as famílias, nos
termos da Economia Neoclássica, o que se afirmaria como o oposto da corrente
Institucionalista de Veblen, Mitchell e Commons. Só a título de curiosidade,
encontramos nomes tão dispersos, mas também reconhecidos, inclusivé laureados
com o Nobel da Economia, como Coase e Becker, entre outros tais como Williamson,
Buchanan e Mincer, apelidados, portanto, de ‘novos institucionalistas’.
Mas, o que nos interessa neste momento, é referirmos aqueles que, à semelhança
de Galbraith ou Heilbroner, reconheceram validade nos pressupostos
institucionalistas e que os subscreveram, adaptando-os à modernidade. Esta nova
corrente postula a imperfeição do mercado enquanto formada pela dimensão do
mesmo: um mercado com um elevado número de agentes promove o anonimato
recíproco; pelo contrário, um mercado com um reduzido número de agentes leva a
que as relações sejam menos formais, entrando portanto mecanismos de distorção
dos preços como as preferências individuais ou variáveis sócio-emotivas
particulares. Prefaciam, portanto, a necessidade do controlo dos preços numa
economia com poucos agentes na tentativa de desfazer o hiato temporal entre a
prescrição do termo de troca e a sua aplicação prática bem como a dissociação
entre os custos e a capacidade produtiva das firmas . Reconhecem ainda a
permanência de desequilíbrios do mercado (como equilíbrios sub-optimais,
açambarcamentos, desfasamento permanente entre a oferta e a procura, ou a não
correspondência dos preços) e o pressuposto da mobilidade limitada de recursos e
factores, mesmo numa economia continental como a dos EUA.
Frank (1994: 440) ironiza ainda com Galbraith, na medida em que este inverte o
sentido da sequência tradicional da procura enquanto estimulante da oferta e
propõe uma sequência revista, numa revisão de Say – “é dizer que a mão invisível
de Madison Avenue leva os consumidores a servir os interesses das grandes
empresas”.
Hodgson (1994), autor do influente “Economia e Instituições: Manifesto por uma
economia institucionalista moderna”, começa por dissertar sobre a metodologia da
teoria neoclássica e do empirismo de Popper e depois, postula um “adeus ao
‘homem económico’”, perguntando qual o sentido do individualismo metodológico,
criticando a hipótese da maximização e definindo o conceito racionalista de
acção. Numa III parte do seu influente livro, este autor apresenta-nos quais os
elementos de uma economia institucionalista: os contratos e direitos de
propriedade. É deveras inovador na medida em que olha o mercado como, ele
próprio, uma instituição regulada por normas, com os custos inerentes e limites
de crescimento endógenos, terminando por professar, mais uma vez, a
impossibilidade da concorrência perfeita. Como Heilbroner, investiga a
problemática do sentido de uma economia pós-keynesiana, assim como reflecte
sobre termos basilares, à semelhança de “necessidade” e “bem-estar”.
Outras obras que actualizam o Institucionalismo Americano, além das referidas de
Eggertsson (1990), North (1990) e Williamson (1998), são as de Powell e Dimagio
(1991) e Hall e Soskice (2002). De um modo sintético, para estes autores, os
institucionalistas actuais focam:
- a imperfeição do mercado assente na variável dimensão;
- a possibilidade do controlo dos preços numa economia com poucos agentes;
- a permanência de desequilíbrios no mercado;
- a discussão sobre o pressuposto da mobilidade limitada de recursos e factores;
- a proposta de uma sequência revista (complexidade entre oferta e procura);
- a negação do individualismo metodológico ;
- a crítica da hipótese da maximização hedonista enquanto motor do comportamento
dos agentes;
- o recurso a novas áreas temáticas como os contratos e direitos de propriedade;
- a perspectivação do mercado como, ele próprio, uma instituição regulada por
normas, com os custos inerentes e limites de crescimento endógenos;
- a impossibilidade da concorrência perfeita, bem como os custos da ausência de
oligopólios competidores no mercado expressos no ‘poder compensatório’.
Mas talvez a maior dúvida que ainda se coloque ao Institucionalismo permaneça no
seu fim e na sua substância. Se é verdade que as doutrinas sobrevivem à custa do
ímpeto dos seus defensores, também é verdade que para a sua existência é
indispensável a delineação de um campo autónomo onde possam agir, de um domínio
metodológico definido. Desde o momento em que a exploração de temas
institucionais floresceu por parte de “Novos institucionalistas”, que o
Institucionalismo Americano se viu obrigado a ceder em vigor da sua face
ortodoxa, repugnando qualquer abstraccionismo e generalização. Mas, nessa
atitude, ameaçou a sua essência. Nessa atitude, perdeu terreno, perdeu domínio e
vigor académico.
De acordo com a opinião de alguns críticos, como Blaug (1992), o
Institucionalismo Americano não foi mais que uma sub-corrente epistemológica,
dentro da Economia. Para outros, tratou-se de uma utopia acabada nas definições
de ideais revolucionários mas demasiado presa a espaços próprios, como a
realidade industrial norte-americana. Mas, para outros autores, à semelhança de
North (1990), Ostrom (1995) ou March e Olsen (1999), terá conseguido embrenhar-se
nos diversos campos das actuais teorias económicas mais influentes,
sustentando-as numa atitude crítica que permitiu à Economia, como Ciência,
reconsiderar domínios como a Política, a História ou o Direito.
5. Conclusão
Antes de mais, convém lançar um alerta: qualquer conclusão no mundo da discussão
filosófica/epistemológica da Economia deve ser uma conclusão humilde, na medida
em que somos forçados a reconhecer (como, aliás, no universo científico) a
tangência diminuta entre as verdades absolutas, ou ditas ‘absolutas’, e as
constatações recorrentes. Diríamos que o Institucionalismo morreu? Seria falso,
porque vive, curiosamente, com um estranho vigor, nos seguidores neoclássicos de
Chicago, por exemplo, que o reformularam e lhe atribuíram a consistência da
verificação matemática.
Este contributo está presente em circunstâncias tão variadas como as do mercado.
Ou, preferencialmente, como as dos mercados. O Institucionalismo Americano
criticou, com alguma severidade, um mercado “poligonal” na medida em que está
definido, delineado, pressuposto. A sua revolução consistiu em questionar o
mercado nessa dimensão. Em reconhecer o papel especial de outros agentes, bem
diferentes do “homo ecconomicus” marginalista, maximizador da satisfação; em
reconhecer equilíbrios precários – que Pareto chamou de sub-optimais - , o papel
das instituições, das suas relações internas, da importância das variáveis
comportamentais, do meio, em resumo, o Institucionalismo expandiu o conceito de
mercado e revigorou o universo económico.
Mesmo debaixo das críticas de que não passou de teorias incidentes em casos
pontuais, em áreas localizadas, em realidades pré-concebidas, o
Institucionalismo terá, pelo menos, provocado a discussão, o avanço, o caminhar
para a frente. Se a sátira de Jonathan Swift fez corar metade dos seus
contemporâneos, a sátira, por exemplo, de Veblen, fez pensar três quartos dos
académicos de então.
A discussão actual face à complexidade da sua influência é a marca mais visível
do próprio vigor do Institucionalismo Americano.
Referências Bibliográficas
Blaug, Mark; Economic Theory in retrospect; Cambridge University Press; 4th
edition – 1992; 354, 355, 420, 708-711
Brue, Stanley; The Evolution of Economic Thought; The Dryden Press (Harcourt
College Publishers), 2000
Eggertsson, Thrainn; Economic Behavior and Institutions: Principles of
Neoinstitutional Economics; Cambridge University Press; New York; 1990
Frank, Robert H.; Microeconomia e Comportamento; McGraw-Hill; Lisboa; 1994;
360n, 442-443
Galbraith, John Kenneth; Uma teoria do controlo dos preços; Publicações D.
Quixote; Lisboa; 1982
Galbraith, John Kenneth; Economia e Bem Público; Publicações D. Quixote; Lisboa;
1978; 251
Hall, Peter e David Soskice; Varieties of Capitalism; Oxford; 2002; 1-68
Hall, Peter e Rosemary Taylor; The three versions of neo-institutionalism; Lua
Nova; 58; 2003; 193-223
Heilbroner, Robert; A formação da sociedade económica; Zahar editores; Rio de
Janeiro; 1984; 148, 172, 176, 191n, 248
Hodgson, Geoffrey M.; Economia e Instituições: Manifesto para uma Economia
Institucionalista Moderna; Celta Editora; Oeiras; 1994
Knight, F.; The limitations of scientific method in economics, in Tugwell, R. G.
(ed.); The Trend of Economics; Alfred A Knopf; New York; 1924; 105-47
March, James G., e Johan P. Olsen; The Institutional Dynamics of International
Political Orders; In Katzenstein , Peter, Robert O. Keohane, e Stephen D.
Krasner; Exploration and Contestation in the Study of World Politics; Cambridge;
Massachussets; 1999; 303-329
Mises, L. von; Theory and History: An Interpretation of Social and Economic
Evolution; New Haven; Yale University Press; 1957
North, Douglas; Institutions, Institutional Change and Economic Performance;
Cambridge University Press; New York; 1990
Ollman, B.; Dialectical Investigations; Routledge; 1993
Ostrom, Elinor; "New Horizons in Institutional Analysis"; American Political
Science Review; 89; 1;1995; 174-178
Powell, W. e P. Dimaggio; The New Institutionalism in Organizational Analysis;
University of Chicago Press; 1991
Taylor, Arthur; As grandes doutrinas económicas; Publicações Europa-América; 9ª
edição – 1990; pg. 120-128
Williamson, Olivier; The Economic Institutions of Capitalism; Free Press; New
York; 1998
|
Pulsando aquí puede solicitar que
le enviemos el
Informe Completo en CD-ROM |
Los EVEntos están organizados por el grupo eumed●net de la Universidad de Málaga con el fin de fomentar la crítica de la ciencia económica y la participación creativa más abierta de académicos de España y Latinoamérica.
La organización de estos EVEntos no tiene fines de lucro. Los beneficios (si los hubiere) se destinarán al mantenimiento y desarrollo del sitio web EMVI.
Ver también Cómo colaborar con este sitio web