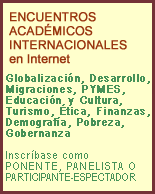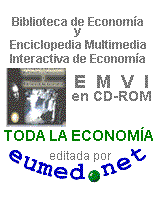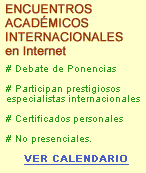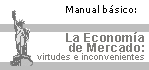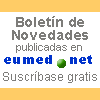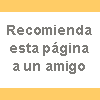|
|
|
|
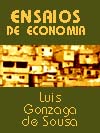 Este texto forma parte del
libro
Este texto forma parte del
libro
Ensaios de Economia
de Luis Gonzaga da Sousa
Para obtener el texto completo
para imprimirlo, pulse aqu�
O PODER DOS CONGLOMERADOS
A acumula��o de capital, pr�pria dos pa�ses capitalistas, tem causado os maiores transtornos �s na��es do terceiro mundo; pois, o poder concentrador gera em tal economia a imposi��o de dois mandat�rios: um primeiro, o Estado, institui��o natural e legal; e, o segundo, o poder econ�mico dos conglomerados ou oligop�lios. O poder econ�mico castra a autoridade do Estado que deveria coordenar a atividade econ�mica, na busca de uma eq�idade entre produ��o e consumo; entretanto, o que se observa � um sub-julgamento total do Estado ao poder econ�mico, sem as m�nimas condi��es de tomar decis�es em favor dos mais explorados, quer seja trabalhador ou consumidor. Isto conduz ao chefe maior do Estado, a tomada de posi��o que atenda, muito mais ao poder econ�mico do que aos bravos trabalhadores filhos da terra, que tanto labutam para devolv�-la, e engrandec�-la para todos, em que nela residem, sem distin��o de ra�a, religi�o, e situa��o econ�mico-financeira.
Hoje em dia, s�o conhecidos muitos e muitos exemplos da catastr�fica atua��o dos conglomerados na economia mundial, onde para eles s� o que interessa � o poder, mesmo que em alguns momentos venham a ter preju�zos nos seus neg�cios; contudo, sabem que no m�dio prazo, esses d�ficits ser�o cobertos pela explora��o daqueles que constroem a na��o. O poder econ�mico � perigoso e deve ser visto com muito cuidado, tendo em vista que os recursos financeiros t�m condi��es de subverter as ideologias de um pa�s para implanta��o de grupos poderosos para dominar os legisladores e executores da pol�tica nacional em preju�zo de uma pol�tica nacionalista, n�o corporativista; mas, de independ�ncia internacional e sem xenofobismo; pois, uma economia dependente � a causa principal das maiores crises por onde passam alguns pa�ses que t�m voca��o para se auto-desenvolverem, por�m, est�o presos � correntes do capital monopolista internacional.
A quest�o n�o diz respeito a um nacionalismo exacerbado, ou at� mesmo um pavor a estrangeiro inconseq�ente; mas, a uma luta intransigente contra as grandes concentra��es que t�m como objetivo, uma diminui��o da competi��o, em demanda de um poder monopolista, que faz com que o poder do consumidor que queira atuar no mercado como uma for�a competitiva seja diminuta, ou at� mesmo inexistente. Esse tipo de pol�tica comercial n�o conv�m a uma na��o que quer que seus agentes econ�micos atuem livremente, determinando seus desejos como se quer e entende e, como color�rio, o pre�o a pagar pelo produto que se busca. Se isto n�o acontecer, a economia fica dependente dos trustes mafiosos que determinam o que os consumidores; e, os pequenos e micros industriais devam fazer, quer dizer, qual a tarefa que cabe a esses agentes que participam da economia, entretanto, sem poder algum para tomar decis�es em seus pr�prios neg�cios.
O poder dos conglomerados � o poder dos capitalistas que acumulam, e dentro deste processo de enriquecimento il�cito utilizam a pol�tica de concentra��o e de centraliza��o de seu poder econ�mico, causando dist�rbios internacionais e at� mesmo nacionais, porque, crises nas na��es do terceiro mundo, s�o refletidas dentro do pr�prio pa�s de origem, ou mais claramente, dentro da comunidade caracterizada como primeiro mundo e, da�, as recess�es se tornam maiores com poucas perspectivas de solu��es de curto e m�dio prazo. � ineg�vel que as concentra��es e acumula��es trouxeram um avan�o � economia mundial capitalista; contudo, foram tecnologias ben�ficas a grande impulsionadora desse progresso; mas, essas mesmas tecnologias assombraram a na��o terr�quea com as ditaduras militares, as guerras nucleares, a forma��o de conglomerados e, sobretudo, a explora��o e espolia��o dos economicamente mais fracos.
Neste contexto, vale salientar que os conglomerados t�m as suas limita��es, impostas pelas pr�prias conting�ncias da estrutura de mercado de maneira geral, como explicita claramente STEINDL (1986)[1] quando relata que
a taxa de acumula��o interna e margem de lucro l�quida a dados n�veis de utiliza��o da capacidade tendem a um limite determinado pela taxa de expans�o do mercado, pela taxa de intensifica��o do capital (rela��o capital total investido sobre a capacidade de produ��o), e a taxa em que a capacidade produtiva existente est� sendo eliminada.
Esta limita��o, quanto ao n�vel de expans�o dos conglomerados, tem contribu�do muito mais para uma intensifica��o da pol�tica de demoli��o dos pequenos e micros industriais ou empres�rios, ou mesmo utilizando-os na implementa��o da consolida��o desses poderes concentrados nas m�os de poucos; pois, estas contendas s� quem sai ganhando s�o os trustes, cart�is, conluios, pools, fus�es, ou outros quaisquer monopolistas.
Essa luta, cujo objetivo � de limitar a concorr�ncia, ou mais evidentemente, a competi��o, os conglomerados, com este poder de concentrar e acumular; chegam sempre ao objetivo principal dos trustes internacionais que � a forma��o de monop�lios e domina��o da economia internacional, como hoje se observa claramente no mundo capitalista. Deste modo, HOLANDA FILHO (1983)[2] mostra patentemente que, a
concentra��o era vista por MARX com refer�ncia a sua an�lise da tend�ncia hist�rica da monopoliza��o da economia capitalista avan�ada. O pensamento marxista est� completamente correto e disto, pode-se invocar as palavras de L�NIN (1953)[3] para verificar que �a concentra��o da produ��o e do capital, atingindo um grau de desenvolvimento t�o elevado que origina os monop�lios, cujo papel � decisivo na vida econ�mica�.
Sem d�vida, coloca��es deste tipo ratificam o perigo que causam os conglomerados que em s�ntese � a atua��o dos monop�lios na busca de explora��o mercantilista, e interferindo claramente no aspecto pol�tico de organiza��o do Estado nacional.
Ainda relatando as experi�ncias de L�NIN pode-se fazer centenas e centenas de cita��es sobre a quest�o dos conglomerados e, em especial, quanto ao problema das concentra��es industriais ou comerciais no sistema capitalista. Nesta linha de racioc�nio, L�NIN[4] assim se expressou, quando escreveu sobre o processo de concentra��o econ�mica ao dizer que
a concentra��o ao atingir determinado grau de desenvolvimento, conduz, pode-se dizer, de cheio ao monop�lio, porquanto se torna mais f�cil para algumas dezenas de empresas gigantescas se porem de acordo entre si. Por outro lado, a dificuldade de competi��o e a inclina��o para o monop�lio resultam das propor��es imensas das empresas.
N�o obstante, as palavras de L�NIN ratificam as dificuldades que advir�o com as forma��es dos conglomerados, diminuindo a competi��o entre as empresas e entre os consumidores para o ajustamento da economia em favor de uma concentra��o monopolista exploradora.
Como � corriqueiro, a habilidade e a capacidade empresarial, t�m se dinamizado mais intensivamente, num sistema onde se geram as economias de escala e dentro dos pressupostos de uma economia tradicional, cujo sistema econ�mico estaria operando num ponto de inefici�ncia. Foi dentro deste princ�pio de inefici�ncia que o progresso tecnol�gico avan�ou de maneira incontrol�vel, estimulando ainda mais a concentra��o e acumula��o do capital nas m�os de poucos que sabem aproveitar as externalidades em benef�cio do progresso t�cnico privado. � a� onde entra o pensamento de BANDEIRA (1975)[5], ao dizer que,
assim, o avan�o da concentra��o no interior de cada pa�s representou, freq�entemente, o primeiro passo para a negocia��o de acordos de cartel, em escala mundial.
Esse avan�o fez surgir tamb�m as sociedades an�nimas e muitos outros tipos de associa��es que tinham e t�m o objetivo de domina��o do mercado consumidor, num aumento intransigente das concentra��es e poderio oligopolista nacional e internacional.
O poder dos conglomerados � t�o grande que alguns pa�ses j� tentam uma maneira de coibir os tipos de abusos que esses agentes econ�micos praticam na economia mundial capitalista, desde as limita��es credit�cias dos bancos internacionais, at� mesma � produ��o gerada em cada Pa�s. As crises internacionais s�o exemplos mais comuns desse tipo de atua��o dos conglomerados a n�vel global, conceituados como multinacionais, transnacionais e/ou at� mesmo, usando agentes econ�micos mercen�rios, como gerente de determinada empresa, onde na verdade, o dono verdadeiro � uma multinacional poderosa que aos poucos tenta participar do mercado de determinado pa�s. Com esta filosofia, o capital monopolista internacional, est� cada vez mais dominando o mundo capitalista, de uma maneira muito indecente que leva as classes pol�ticas de uma na��o a uma depend�ncia muito forte, a uma situa��o rid�cula, de descr�dito e de desrespeito ao povo de um Pa�s.
A resultante do poder dos conglomerados s�o as deforma��es que pairam, quais sejam perif�ricos, ou quer sejam de primeiro mundo, tais como prostitui��o, amor livre, roubos, assaltos, desemprego de toda esp�cie, qual seja: disfar�ado, subemprego, friccional, ou qualquer uma outra forma de anomalia social, como recorr�ncia �s drogas e/ou todo tipo de viol�ncia que o ser humano pode enfrentar. As desigualdades sociais e econ�micas s�o bastante constrangedoras, pois os piores tipos de calamidades p�blicas passam a fazer parte da vida do agente econ�mico, como se ele fosse um objeto qualquer nas m�os dos empres�rios capitalistas, que caminham sempre na busca de consolidar o seu neg�cio que � mais importante do que a vida e a conviv�ncia humana. N�o se pode viver nesta arena de id�ias f�teis, onde somente o capital impera, e se pergunta: a troco de que, tal objetivo � t�o importante? � uma pergunta dif�cil de solu��o pragm�tica.
O que fazer para que um pa�s que esteja nestas condi��es, n�o perdure por muito tempo, tendo em vista que os �nicos a pagarem por este estado de coisas s�o as ind�strias ou com�rcios marginais? � fundamental que o esp�rito cooperativo ou associativo se firme nos ideais do micro e pequeno industrial, ou comerciantes, para que n�o sejam engolidos pelos trustes internacionais, quer sejam isoladamente, quer sejam em formas de cart�is, conluio, pools, fus�es ou qualquer outra maneira de monopolizar a economia, em detrimento daqueles que lutam quotidianamente e n�o t�m condi��es de avan�ar ou crescer, como pelo menos os m�dios industriais ou comerciantes internos ao seu pa�s. A economia deve crescer de maneira conjunta, tanto no que diz respeito aos micros, pequenos, m�dios; e como os grandes agentes econ�micos que participam do processo de produ��o, nunca deixar que a economia cres�a, de maneira concentrada nas m�os de poucos ajudados pelos monop�lios externos.
Sintetizando, observa-se que o mundo atual capitalista sobrevive �s custas dessas associa��es, ou conglomerados, que buscam a especializa��o da produ��o, o aprimoramento da tecnologia e, sobretudo, uma limita��o do mercado para poucos usufru�rem seus lucros e suas delibera��es, de o que e como produzir. Para isto, os monop�lios internacionais contam com o apoio do aparato estatal, que tem se demonstrado eficiente protagonista dos trustes internacionais, a troco de uma manuten��o de grupos pol�ticos no poder, o que tem dificultado uma luta por independ�ncia, tanto no �mbito pol�tico internacional, como pelo lado econ�mico. Finalmente, dessa forma, a sa�da � a demanda de uma pol�tica nacionalista, sem xenofobismo; pois, como se sabe, o nacionalismo corporativista n�o constr�i; entretanto, se � para o bem geral da na��o, fa�am-se verdadeiras as palavras de Dom Pedro I, quando optou em ficar no Brasil, em atendimento ao povo brasileiro.
[1] STEINDL, J. Capitalismo e Maturidade na Economia Americana. S�o Paulo, VICTOR CIVITA, 1986, p. 194.
[2] HOLLANDA FILHO, Sergio B. de. Estrutura Industrial no Brasil: Concentra��o e Diversifica��o. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1983, p. 10.
[3] LENIN, I. O Imperialismo: Fase Superior do Capitalismo. S�o Paulo, GLOBO, 1979, p. 88.
[4] LENIN, I. O Imperialismo: Fase Superior do Capitalismo. S�o Paulo, GLOBO, 1979, p. 95.
[5] BANDEIRA, M. Cart�is e Desnacionaliza��o. Rio de Janeiro, 1975, p. 156.